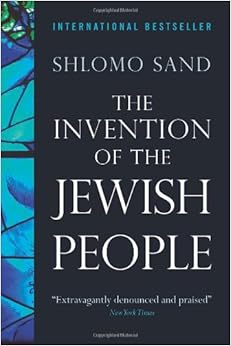A heterogenia, todavia, não irrompeu subitamente e por geração espontânea ou
ad nihil. A heterogenia sempre existira e palpitara, aos mais diversos níveis da sociedade tanto quanto do Império. Não só a dispersão territorial gerava singularidades, como o próprio rectângulo original, não sendo vasto, era, todavia, resultado de várias misturas e encruzilhadas culturais. Assim, nem as tribos metropolitanas - dos alentejanos aos transmontanos - eram homogéneas (a nível de costumes e mentalidades), nem, ainda menos, as tribos africanas o eram. Tão pouco a própria colonização em Angola era equiparável à de Moçambique, ou da Guiné. Em 1919, no "Brado Africano", a propósito duma comparação entre os ambientes de Luanda e Lourenço Marques, o Grémio Africano comentava, com pesar :
"quanto á convivência entre o elemento nativo e o outro há, pelo menos pareceu-me, uma relativa harmonia, uma confraternização agradável [em Luanda], o que não sucede na outra costa (Moçambique/Lourenço Marques), onde o nocivo costume de copiar o que a União Sul Africana - os boers e os ingleses - tem de pior, levou aquela gente a uma situação intolerável de distinções odiosas e desacatos às leis da República".
Ora, este pequeno apontamento, reflecte logo duas características importantes: por um lado, a relativa vulnerabilidade das tribos portugueses às influências externas; por outro, e aqui muito curiosamente, o projecto da harmonização (ou seja, da homogeneidade) pluriétnica do Império como algo que não é original do Estado Novo, mas que o Estado Novo, como em tantas outras metas estratégicas, se limitou a dar continuidade e aprofundamento. Tudo isso, sublinhe-se, na construção daquilo a que poderíamos chamar, sem ponta de abuso, como uma "cultura portuguesa". Tanto que mesmo em resenhas históricas insuspeitas de quaisquer simpatias "salazaristas", como seja a "Nova História da Expansão Portuguesa", pode ler-se:
«A legislação republicana, sobretudo o Código Civil, aplicado à colónia de Moçambique nas suas sucessivas alterações, espelhava uma sociedade harmoniosamente estratificada, onde as minorias tinham o seu papel, reconhecendo-se-lhes os seus direitos e a sua cultura, dando uma imagem de abertura e solidariedade.»
É indubitável que nesta adequação do Império à República está já a encetar-se o preâmbulo da "descolonização pela nacionalização" a que o Estado Novo procurará conferir corpo acabado. Ou seja, Moçambique, Angola e restantes partes dispersas do Império passam a estar -tendencialmente - unidas sob o manto homogéneo das mesmas leis, que, embora respeitando a idiossincrasia diversa de cada latitude, integram numa unidade territorial um povo único, embora pluriétnico. Já quase ao fechar da loja, Marcello Caetano (18 de Abril de 1969, em Lourenço Marques), ainda reformulará a receita: "A unidade nacional não prescinde das variedades regionais". Acrescentando, ainda mais liminarmente: "«não conhecemos barreiras de cor, não fazemos distinções de raças, somos, todos os que nascemos à sombra da bandeira verde-rubra, unicamente portugueses, radicalmente portugueses, portugueses iguais à face da Pátria e iguais à face da lei!» Em suma, nestas múltiplas e sucessivas acções homogeneizantes da heterogenia o que se verifica é uma consequente e perseverante Portugalização do território ultramarino.
Porém, esta portugalização que se pretendia instaurar oficialmente encontrava resistências e desvios nas flutuações mentais no próprio terreno, expressão viva das heterogenias locais. No seguimento de texto atrás citado, pode ler-se:
«Mas, ao estudar as práticas de convívio social, a actuação das associações de classe e de profissão, das sociedades recreativas, da beneficiência e de socorros mútuos, dos clubes desportivos e recreativos, verifica-se que eram atípicos os fenómenos de aproximação inter-raciais ou inter-classistas.»
O que, repito, reaviva as diferenças reais entre a maneira de estar em Moçambique e a maneira de estar em Angola (das quais, reforço, posso transmitir testemunho pessoal neste preciso sentido) e que, no âmbito das tais "influências" osmóticas pode ser explicada quer pela interacção com a cultura boer/inglesa em Moçambique, quer pelos intercâmbios migratórios com o eixo Brasil/Lisboa em Angola.
O Acto Colonial, de 1930, objecto de críticas e polémicas várias, representa, em certa medida, pelo menos na terminologia, uma suspensão, senão mesmo um retrocesso. Contudo, não pode ser desligado do momento histórico, quer nacional, quer internacional, em que vem ao mundo. O facto é que a vaga nacionalista (e não estamos agora aqui as espiolhar cabeludices a cada nacionalismo) que ganhava momento por todo o continente europeu eclodia como resposta a uma ameaça concreta de alienação e desintegramento das pátrias tradicionais (que, de resto, viria a triunfar). Nessa resposta, eram as próprias circunstâncias que impunham como que uma enérgica refundação e recentramento das nações, donde, entre outras características comuns, a emergência dum estado forte, representante e curador da nação, em contraponto a formas de estados alienados, lassos e meros procuradores de lógicas e criptarquias internacionais.
O recentramento, em especial, traduzia a necessidade imperiosa de obstar com uma centripetia reagregante à força centrífuga permanentemente instilada pelos internacionalismos. A forma como cada povo procedeu remete para as suas idiossincrasia históricas e culturais. No caso Português, a inspiração, mais que numa qualquer contra-ideologia (o fascismo, sobretudo), radicou no pensamento tradicional católico, de que Quirino de Jesus, o principal arquitecto do Acto Colonial, era vivo exemplo e influência marcante de Oliveira Salazar.
A procura dum recentramento traduz, em concreto e exacto, no caso português, a busca dum (re)equilíbrio - das finanças tanto quanto das políticas; na maneira de ser na história tanto quanto na maneira de estar no mundo, ou seja, na harmonização entre um passado e um presente, entre um desígnio e um realismo.
Não deixa de ser sintomático que o Acto Colonial surja, em certa lógica e medida, como resposta a uma "federalização" que Norton de Matos propugnava. Tende a considerar-se esta, muito angelicamente falando, como um "momento falhado" para uma resolução milagreira e antecipada para toda a tragédia da descolhonização posterior. Que a terminologia do "Acto Colonial" foi tudo menos brilhante, serei eu o último a defendê-lo; mas é preciso não esquecer esse pormenor nada desprezível em como Norton de Matos deixou Angola: na bancarrota. Tal qual a primeira república tinha deixado Portugal. De tal modo que, não fora a excepção completamente excêntrica do consulado de Salazar e ficaríamos com a ideia altamente sustentada de que a "república", entre os portugueses, bem mais que forma de regime político duma nação é uma forma obsessiva de conduzir uma nação à bancarrota. Ou seja, em termos concretos, uma forma de conduzir um povo à servidão, por actos compulsivos e desvairados de desgoverno crónico. No que, verdade se diga, a república não deslustraria assim tanto da monarquia constitucional (ou seja, coroada ou ferrada, a república só a bancarrota perseguiria e almejava).
Podemos, ainda assim, imaginar a implementação formidável da bela e mimosa ideia de Norton de Matos no terreno: a federação duma Angola falida, dum Portugal mais que falido e toda a restante constelação de parcelas territoriais em pelintra órbitra republicana. Não é preciso dar grandes tratos à imaginação para orçar do cintilante porvir duma procissão dessas. Seguramente, há dois estados em que qualquer Estado não reúne condições para qualquer acto grandioso ou sequer de mui racional gestão: o estado de ruína e o estado de medo. Subjugado pela miséria ou pela cobardia, não há Estado que resista, nem, a médio prazo, que subsista.
Ora, se as políticas de Salazar demandaram, com perseverança, alguma coisa, foi precisamente levantar o país acima da ruína, não deixando nunca que o tolhesse o medo. Pode, quem quer que seja, obstar este mundo e o outro às políticas de Salazar: têm melhores ideias, possuem planos mais capazes, animam-nos clarividências superiores?... Que avancem! Que se apresentem! Que nos deslumbrem com os seus portentos! Mas se depois o saldo prático, recorrente e consumptivo, por acção, apoio ou mera sabujice ideológica, é a ruína nacional, o estado permanente de desmoralização colectiva, o retrocesso anedótico aos tempos queirosianos, não há mais tolerância nem paciência para palanfrórios que, mais que pública mostra de desfaçatez manhosa, constituem material prova de velhaquice criminosa e impenitente. Como não me canso de proclamar: não é caso de contra-argumentação, é apenas caso de camisa-de-forças. Camisa e, de reforço, fralda, dado o nível bastante sujo, incontinente e fétido da emissão. Senão, pensemos no glorioso grunhido de que o razão de cobertura para que se proceda assim ou assado é porque assim ou assado se faz ou fez lá fora. Como se já não bastasse a parolice intrínseca (e infelizmente atávica) dum tal critério , ainda por cima o que se fez lá fora é tudo menos abonatório - histórica, moral, política ou sequer economicamente falando-, e os resultados estão bem à vista (naturalmente, debalde pedir olhos na cara a quem se esmifra a ter visões pelo olho do cu, mas enfim...). Quando a Europa se entregou ao suicídio na 2ª Grande Guerra, Portugal, muito sensata e prudentemente, não alinhou (e não esteve orgulhosamente só, porque a Suiça e a Suécia também não perderam o tino). Depois, para corolário da javardice sanguinolenta, quando a Europa devidamente castrada, largou a consumar a sua antítese (e aqui ninguém mais que os britânicos desceu às regiões inferiores do lamaçal, afinal eram eles o Império do Sol Sempreviçoso), porque raio Portugal estava obrigado a segui-los no rilhafoles mundial? Fomos atrás de alguém para África ou para a Índia, em Quinhentos? Como diz o adágio, "a Antiguidade é um posto", e nessa qualidade éramos generais. Que a história acabe, já é cangaço mais que exuberante, agora que se apague ou se distorça e tripudie à conveniência do psico-marrequinho de plantão e respectivo bando mentecaptor, isso já ultrapassa, tanto quanto a fronteira do decoro, a da sanidade mental.
Não obstante, a ideia da "federalização" lusa irá ressurgir em vésperas do 25 de Abril. Era a tese, o "plano" fulcral de "Portugal e o Futuro", de António de Spínola. Para este, a sua solução era a "virtuosa", constituindo alternativa prendada ao "integracionismo" dos Ultras e ao "entreguismo debandante" dos marxizados. Não se sabe o que seria esse "integracionismo" dos tais ultras que, em boa verdade, fora as fábulas e narrativas misteriosas, nunca se avistaram em parte alguma. Apontado como figura de proa desta tribo, Kaúlza de Arriaga definia-se como um "McNamara português". E assim talvez se compreenda a distância de que Salazar o fitava. Mas mitos urbanos à parte, existia a situação de facto e direito (devidamente sustentado e pleiteado na ONU) do Ultramar português: era parte efectiva e concreta da Nação. Não eram apenas colónias de Portugal: era Portugal. O Acto Colonial, naquilo que de infeliz tinha, retornara à gaveta donde nunca deveria ter saído. Essa era a situação real. Contra ela fermentavam duas peregrinações aparentemente rivais, mas objectivamente cooperantes (e tanto que se apresentaram em híbrida fusão no dia da golpada: o "federalismo" e o "entreguismo expresso". Ou seja, contra a realidade, duas fábulas a armar ao pingarelho. Ambas mistificando e endrominando o pagode com putativas "libertações" e "democratizações" de povos oprimidos - o português e os outros. O resultado prático, como se viu, não foi libertação nem democratização lavada que se visse. Dispenso-me de elencar o rol de selvajarias, misérias, atropelos, latrocínios, traições grosseiras e flausinices quejandas que se seguiram e têm escorrido até aos dias de hoje.
Entretanto, essa mesma "federalização" de Spínola, segundo Veríssimo Serrão, merece a Marcello Caetano, já no exílio, o seguinte balanço:
«Disse-me em seguida que ao ler no ano de 1972 a reportagem de um jornalista da oposição sobre a Guiné, não tivera dúvidas de que se pretendia utilizar o general para aquele fim. No artigo defendia-se a urgência de um De Gaulle para activar em Portugal o processo da descolonização em África: Viu-se feito salvador, para mais com o peso do prestígio que julgou alcançar só porque tinha falado com a raposa matreira do Senghor. (...)
O general não abriu nenhuma porta para o futuro. A tese federalista, que podia ter sido uma solução nos anos 60, não o era mais no último quartel do século. Só por vaidade ou tontice poderia em 1974 ser aplicada com êxito.» - (J.A.Veríssimo Serrão, "Confidências no Exílio", pp.272).
Portanto, para Marcello, o federalismo, tendo sido ponderável no passado (presumo, antes do conflito armado), tornara-se inviável (por via desse mesmo conflito). Isto ainda vai ter que ser descascado. Mas como a récita já vai longa, fiquemo-nos, para já, pelo óbvio indisputável: quer a realidade da nação ultramarina, quer a hipótese federalista requeriam o mesmo quesito fundamental: força para a sua salvaguarda e manutenção. A federalização só podia resultar enquanto medida implementada pelo regime e numa situação de força. Jamais poderia resultar (admitindo mesmo a mirabolância de que era viável) duma situação revolucionária, com as consequentes e fatais fragmentações, tumultos e incertezas internas.
Em contrapartida, o variante do "entreguismo expresso", não dispondo de força bastante para se impor per si, palpitava e fermentava na expectativa de um colapso da força nacional. Urdia-o e instilava-o na sombra. Sabia que a sua grande chance era conseguir que a força da nação se virasse contra si própria. Só por autodestruição Portugal era vulnerável: e Lisboa era o seu calcanhar de Aquiles. Spínola, esse, foi o cavalo de Tróia dos "entreguistas". E estes, decerto, eram os menos utópicos de todos: a debandada era apenas o mais lógico dos corolários. E nem precisava de grande força, apenas a da inércia. Como a bênção para tudo isto, nos dias de hoje, também não requer grandes ginásticas intelectuais, apenas o passeio canino da estupidez.
Em 1974, a última fracção da Europa por castrar, entregou-se, com trinta anos de retardo, à auto-flagelação e à zaragata-civil por tele-despacho. Dinamitado o centro, foi-se a centripetia que unia as partes e rompeu a centrifugação que dispersou em todas as direcções. O organismo vivo cedeu passo à máquina avariada, ao brinquedo escangalhado de fedelhos tontos ou à engrenagem de fankenstein em perpétua reconstrução. Não há pessoas. Apenas peças. Mecânicas. Abateu-se o velho regime mas em seu lugar nenhum regime foi implantado: apenas necrose. Não houve descolonização nenhuma: houve apenas descolhonização geral - desportugalização, em linguagem erudita. Que começou nas terras, mas continua nas mentes.
Lisboa, 3 de Abril de 1963...
«No fundo, não se trata de um conflito entre nações, mas entre princípios, e por isso o diálogo é impossível... Vamos ver: ou têm força ou não têm; e se não usam a força militar podem procurar destruir as forças políticas internas que apoiam a nossa política. Há muita gente que quer ser ministro, seja em que circunstâncias for. Não podemos ser demasiado optimistas.»
- A.O. Salazar
PS: Hoje em dia, acho que as ambições dos invertebrados já não são tão desmedidas. Alguns pobre-diabos contentavam-se em ser jornalixeiros. Parece-me aceitável, sobretudo porque dispensa da condição, tanto quanto vertebrada, racional.